HISTORIOGRAFIA BRASILEIRA
A História, ajudando a explicar a realidade, pode ajudar ao mesmo tempo a transformá-la. A História, como as outras formas de conhecimento da realidade, está sempre se constituindo: o conhecimento que ela produz nunca é perfeito ou acabado. Historiadores, filósofos, sociólogos e politicólogos estão sempre debatendo sobre isso.
O tempo unido ao local em que o fato ocorre é determinante para acontecer a história e a determinação do processo de evolução social, política e econômica de uma civilização.
A historiografia brasileira é recente em sua evolução. Vários são os pensadores que influenciaram nas transformações que deram mais consistência ao processo evolutivo dessa ciência. De acordo com a historiografia brasileira, Michel Foucaut, pensador francês foi o principal pensador a influenciar nas transformações atuais ocorridas.
A historiografia, como a história, parece se repetir – com variações. Muito antes do nosso tempo, na época do Iluminismo, já se tratava a hipótese de que a história escrita deveria ser uma narrativa dos acontecimentos.
A história escrita, inclusive a história estrutural, assume a condição de história narrativa, uma consequência dos primeiros passos da história como ciência na Grécia Antiga com, por exemplo, Tucídides.
A historiografia brasileira apoiou-se até certo ponto nas teorias desenvolvidas, principalmente, no continente europeu e em subjetividades de filósofos e pensadores importantes. No que se refere à historiografia brasileira, uma influência marcante dos pensamentos de Michel Foucault na historiografia brasileira foi o livro A invenção do Nordeste e outras artes, de Durval de Albuquerque, que retrata o nascimento dessa importante região brasileira como configuração de organização social e política associado à seca.
A história humana não se desenrola apenas nos campos de batalha e nos gabinetes presidenciais. Ela se desenrola também nos quintais entre plantas e galinhas, nas ruas de subúrbios, nas casas de jogos, nos prostíbulos, nos colégios, nas usinas, nos namoros de esquinas. Disso eu quis fazer a minha poesia. Dessa matéria humilde e humilhada, dessa vida obscura e injustiçada, porque o canto não pode ser uma traição à vida, e só é justo cantar se o nosso canto arrasta as pessoas e as coisas que não têm voz. Infere-se do texto que os passos da humanidade se configuram de acordo com os fatos que a cercam e constroem, assim, a sua história.
A história é um conhecimento possível? Pode-se fazer afirmações com o significado lógico sobre o passado? Pode-se fazer uma descrição objetiva do passado, referindo-se de fato a ele? Se isso for possível, quais os limites dessa possibilidade? O que faz efetivamente o historiador? Qual o seu real interesse, a sua sensibilidade profunda? Qual a relevância intelectual de uma pesquisa histórica? Enfim, qual seria a identidade epistemológica da história?
As perguntas são indispensáveis para que se construa o pensamento que transforma as possíveis soluções em novos enigmas no processo de construção da história.
A produção historiográfica brasileira mais recente, a despeito da violenta repressão cultural imposta pela Ditadura Militar ao longo dos anos 1960 e de 1970 do século passado, se transformou e expandiu os estudos da história, inclusive com avanços acadêmicos e de editoração.
A participação do Brasil na economia mundial entre 1946 e 1960 foi marcada por antagonismos: em determinados momentos, viu-se uma aproximação da grande potência do mundo ocidental, os Estados Unidos, e em outras circunstâncias o nacionalismo e a estatização de setores vitais para a economia.
O governo de Juscelino Kubistchek continuou a política de industrialização de substituição promovida também por Vargas e inseriu o Brasil em um cenário de grande desenvolvimento, principalmente no setor de transporte e energia.
A economia brasileira passou por grandes transformações nos períodos entre a República Velha e a Era Vargas. O País foi catapultado e cooptado pelas modificações e ao mesmo tempo procurava se inserir em uma dinâmica de desenvolvimento que o diferenciaria no continente. O surto de industrialização espontânea foi auxiliado, em fins da década de 1930, por uma política consciente de intervenção estatal, à medida que o repúdio do Estado Novo ao liberalismo político trazia consigo a determinação de se afastar do liberalismo econômico.
Historiadores trabalham com fontes. Nós nos apropriamos delas por meio de abordagens específicas, métodos diferentes, técnicas variadas. Fontes têm historicidade: documentos que falavam com os historiadores positivistas talvez hoje apenas murmurem, enquanto outros que dormiam silenciosos querem se fazer ouvir. E que dizer da história oral, das fontes audiovisuais, de uso tão recente?
Relativamente à sua natureza, as fontes enquadram-se em categorias diversas. Traços do passado que sobrevivem nas sociedades humanas, como instituições, costumes, tradições, crenças ou mesmo idiomas de origem muito distante no tempo, constituem as fontes imateriais.
A ampliação real da noção de fonte, abrangendo dimensões inimagináveis ou inaceitáveis para os padrões do conhecimento histórico produzido no século XIX, acompanha a transformação verificada na historiografia ao longo do século XX, da qual são exemplos as contribuições inovadoras trazidas pelo marxismo e pela escola francesa dos Anais.
O uso das fontes também tem sua historicidade porque, entre outras razões, são múltiplos, distintos e variáveis no tempo e no espaço os interesses dos historiadores, cujas escolhas estão relacionadas às suas circunstâncias pessoais e respectivas visões de mundo.
A relação entre os historiadores e as fontes documentais, mais especificamente as que se encontram em arquivos, não foi sempre a mesma, como nos mostram importantes e divulgados trabalhos de historiografia. Dos que viam nos documentos fontes de verdade, testemunhos neutros do passado, aos que analisam seus discursos, reconhecem seus vieses, desconstroem seu conteúdo, contextualizam suas visões, muito se passou.
A denominada História Nova afasta-se dos paradigmas vigentes no século XIX, entre outras razões, por revolucionar a concepção de documento histórico e, consequentemente, o modo de entender a crítica documental.
O ofício do historiador requer, prioritariamente, ao se proceder à pesquisa documental, a preocupação de contextualizar o documento, isto é, de entender o texto no contexto de sua época, o que pressupõe, entre outras exigências, compreender o significado das palavras e das expressões.
Não são raras as situações em que os documentos são manipulados, quando não efetivamente falsificados, em face de interesses em jogo em determinado momento histórico. Como exemplo dessa prática pode ser citado, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas de Stálin, o apagamento, em fotografias oficiais, da imagem de alguém que caíra em desgraça.
Na atualidade, a produção historiográfica analisa diversos objetos e utiliza-se de variadas opções metodológicas. Nesse contexto, pode-se falar, por exemplo, de uma renovada história política, entendida como estudo das diferentes formas de articulação entre agentes e grupos de interesses, como também da pesquisa em torno de padrões de socialização e de trajetórias de vida, tanto de indivíduos quanto de grupos sociais distintos.
A partir dos anos 80 do século XX, temas contemporâneos foram incorporados à história; essa ampliação dos objetos de estudo da disciplina significou, entre outros aspectos, a valorização da análise qualitativa e a percepção de que a memória pessoal, ao ser relatada, torna-se capaz de transmitir uma experiência coletiva e social.
Os modos pelos quais as lembranças são fixadas na memória são fundamentais e indissociáveis da pesquisa histórica, justamente porque as lembranças formam uma espécie de mosaico da memória social.
Segundo Karl Marx, os antagonismos de classe e a exploração econômica da maioria da sociedade por uma minoria são fatores determinantes do movimento histórico.
Na historiografia contemporânea, o pós-modernismo critica a racionalidade iluminista.
Nos dias atuais, a Nova História Política também estuda as representações coletivas, as práticas coletivas e os processos eleitorais.
Os temas devem estar articulados a apropriação de conceitos, desenvolvendo a capacidade de extrair informações de diversas fontes.
É necessário livrar as novas gerações da “amnésia social” que compromete a constituição das identidades individuais e coletivas. O direito à memória faz parte da cidadania cultural e revela a necessidade de debates sobre o conceito de preservação das obras humanas. Retirar os alunos da sala de aula proporcionando-lhes contato ativo e crítico com ruas, praças e edifício públicos e redimensionar as ações docentes, correlacionando os processos de construção de identidades atuais com as gerações passadas.
Relativizar as diversas concepções de tempo e as diversas formas de periodização do tempo cronológico, reconhecendo as como construções culturais e históricas.
BIBLIOGRAFIA:
Carlos Bacellar. Uso e mau uso dos arquivos. In: Carla Bassanezi Pinsky (Org.). Fontes históricas. São Paulo: Contexto, 2005, p. 25 (com adaptações)
Carla Bassanezi Pinsky (org). Fontes históricas. São Paulo: Contexto, 2005, p. 7 (com adaptações)
REIS, José Carlos. História & teoria – historicismo, modernidade, temporalidade e verdade. 3.ed. 2006. p. 97
VIEIRA, Maria do Pilar de Araú jo; PEIXOTO, Maria do Rosário da Cunha; KHOURY, Yara Maria Aun. A pesquisa em história. 4.ed. Editora AZ tica, p. 12. 1998.
BURKE, Peter. A escrita da história – novas perspectivas. Editora Unesp, 1992. p. 327.
BORGES, Vavy Pacheco. O que é história. Ed. Brasiliense (com adaptações)
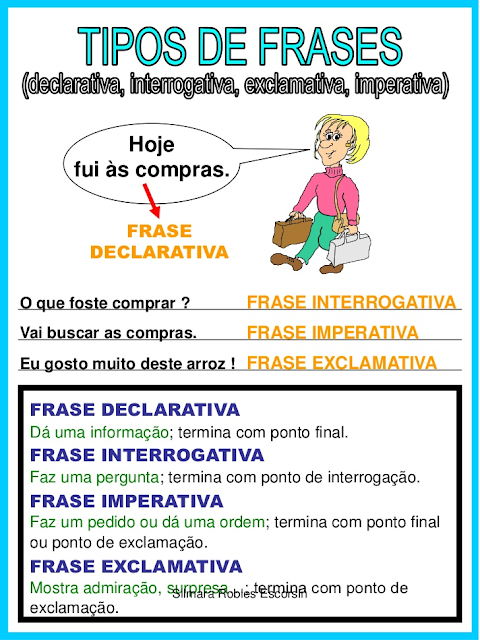

Comentários
Postar um comentário