Abolicionismo
“O abolicionismo foi um movimento político e ideológico que visava a abolição da escravatura e do comércio de escravos. Um dos grandes símbolos da Abolição da Escravatura no Brasil foi uma plantação de flores no Rio de Janeiro. Sendo assim, as flores subversivas viraram símbolo da causa, quem colocava Camélias na lapela ou a cultivavam no jardim da casa confessava sua fé abolicionista.”
Em relação à escravidão no período colonial brasileiro, em 1678, o então rei de Palmares, Ganga Zumba, tentou firmar um acordo de paz com o governo de Pernambuco, prometendo lealdade à Coroa Portuguesa.
Os colonizadores passavam a dividir os escravos africanos em dois grupos: boçais, que eram os recém-chegados que nada sabiam da cultura portuguesa, e os ladinos, africanos aculturados que já entendiam a língua e alguns costumes dos colonizadores. Uma das formas de resistência à escravidão eram as fugas.
Durante o período colonial, o modelo escravista predominou como forma hegemônica nas relações sociais de produção do Brasil. Quanto ao emprego da violência, durante a escravidão colonial no Brasil, embora a violência aberta fosse fundamental para a sustentação do sistema escravista brasileiro, este não se sustentava apenas pelo uso da violência, pois desenvolveram-se ao longo do tempo, oportunidades diferenciadas de inserção dos homens no escravismo colonial brasileiro.
Durante o Período Colonial brasileiro e enquanto durou o sistema escravista no Brasil, havia distinções entre os escravos. Algumas se referiam ao tipo de trabalho exercido, pois eram signifi cativamente diferentes, por exemplo, os escravos que labutavam na casa-grande e os que trabalhavam no campo. Outras distinções relacionavam-se com a nacionalidade, o tempo de permanência no Brasil ou com a cor da pele. O escravo conhecido pela denominação “ladino” era aquele que já estava relativamente “adaptado”, falando e entendendo português.
O movimento abolicionista, no Brasil, tornou-se mais intenso a partir dos anos 1860. Contudo, sabe-se que a luta contra a escravidão foi bastante longa e teve várias faces e atores. Nas últimas décadas da escravidão, os debates foram particularmente intensos, e a escravidão tornou-se um tema político dos mais importantes. Sobre esse contexto histórico e a abolição da escravidão no Brasil, o engajamento de escravos e escravas, mulheres senhoriais e das camadas médias urbanas, advogados progressistas, alguns deputados, entre outros, apontam para uma ampla participação social na luta contra a escravidão.
Prevaleceu o gradualismo no tocante ao tema, devido aos interesses provinciais em jogo, embora vozes mais radicais clamassem pela abolição imediata. A Lei do Ventre Livre, depois de muitas negociações, foi aprovada em 1871, e representou um golpe forte contra os defensores da escravidão. Esse período foi marcado pela perda de legitimidade da escravidão, que passou a ser vista como uma instituição arcaica, desumana, contrária à civilização.
“O trato negreiro entre a América e a África portuguesa extravasa os parâmetros habitualmente definidos para enquadrar o comércio colonial. A bipolaridade das relações entre os mercados brasileiros e africanos possui uma dinâmica própria que verga a política portuguesa no Atlântico. Afiguram-se duas séries de consequências. Em primeiro lugar, as carreiras marítimas reforçam certas aristocracias negreiras africanas e ampliam a oferta de escravos nos portos de trato. Em segundo lugar, esses influxos estimulam o intercâmbio com a África, contribuindo para fixar capitais e equipamentos de navegação nesse setor e, por fim, para diminuir os custos de transporte no Atlântico Sul.”
Questiona a visão historiográfica precedente, segundo a qual a dinâmica do comércio de escravos seria triangular, envolvendo Europa, África e a parte sul da América, sinaliza para a importância das relações Brasil/África, envolvendo mercadores instalados no Brasil e chefes africanos que controlavam populações e negócios nos portos africanos, aponta para a fixação de capitais (econômicos e simbólicos) no Brasil e na África, mostra que o tráfico transatlântico de escravos, desse modo, deixaria de ser exclusivamente “metropolitano” e passaria a ser um trato com diversos agentes envolvidos. Milhões de africanos saíram escravizados de suas terras para uma viagem na qual parte expressiva morria de fome, enfermidades, maus-tratos ou mesmo banzo. Por cerca de trezentos anos (1559-1888), os escravizados foram responsáveis por quase a totalidade das riquezas produzidas no Brasil. As fontes históricas indicam que muitos escravizados africanos morriam de banzo, uma saudade mortal de sua terra, cultura e família.
As pesquisas históricas recentes indicam que, entre os séculos XVII ao XIX, havia mais escravos no mundo do que houve em toda a História Humana.
O corpo escravo se constitui assim como o horizonte fantasmático universal das relações sociais, como se o colonizador tivesse conseguido instaurar sua exploração do corpo da terra como metáfora última das relações sociais. E, de fato, o corpo escravo é onipresente. Os jornais nos falam regularmente da escravatura que ainda existe e que a polícia persegue. E há aquela que a polícia não persegue. Um mal-estar permanente nas classes privilegiadas, com relação às condições de indigência de uma grande parte da população, manifesta o sentimento de que algo, no vínculo empregatício, ainda participe ou possa participar da escravatura da persistência da escravidão como elemento significante de valores que norteiam formas de relacionamento que se verificam, por exemplo, no mundo do trabalho.
Foi só com a proximidade do fim da escravidão e da própria monarquia que a questão racial passou para a agenda do dia. Até então, enquanto “propriedade”, o escravo era por definição “o não-cidadão”. No Brasil, é, portanto, com entrada das teorias raciais que as desigualdades sociais se transformam em matéria da natureza. Após a abolição da escravidão, de um simultâneo processo de absorção da ideia de que as raças significavam essências e da negação da noção de que a mestiçagem levava sempre à degeneração dos indivíduos constituintes da nação.
A escravidão africana marcou a constituição da sociedade colonial brasileira, dada a importância dos escravos africanos para o desenvolvimento da América portuguesa. Sobre o papel do escravismo na configuração da sociedade do Brasil colônia, distinções da sociedade portuguesa moderna reconfiguraram-se com a experiência da escravidão africana no Brasil.
A escravidão representou uma das principais formas de organização do trabalho indígena na Amazônia colonial. Em relação à escravidão indígena, a legislação portuguesa estabeleceu formas diversas de tratar com índios aliados e hostis, reservando, de um modo geral, a escravização para os inimigos, até a abolição total da escravidão indígena no período pombalino.
Entre as décadas de 1980 e 2010 emergiu uma nova historiografia da escravidão na Idade Moderna, cujo foco englobava, além das formas de trabalho, a diversidade da organização sociocultural dos africanos e afrodescendentes escravizados e trazidos para o Brasil.
Em 2000, Luis Felipe de Alencastro publicou O Trato dos Viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul e mostrou como as relações entre a América Portuguesa e Angola se completavam num só sistema de exploração colonial, cuja singularidade ainda marcaria o Brasil contemporâneo.
No Brasil, entre 1870 e 1880, proliferaram os registros fotográficos sobre negros livres, escravizados ou libertos, retratados em documentos científicos, em fotografias de paisagem ou documentando o trabalho nas fazendas de café. Nas fotos, a escravidão é apresentada de forma naturalizada, representando o trabalho dos escravos como equilibrado e harmônico, Marc Ferrez, simultaneamente, registra e constrói visualmente as fazendas de café, produzindo uma imagem idealizada da principal atividade econômica do Brasil oitocentista, As fotos criam uma retórica visual de grande elaboração estética: os trabalhadores posam antes de ir à colheita, fortalecendo a sensação de que “tudo está no seu devido lugar”.
(SCHWARCZ, Lilian Moritz. Nem preto nem branco, muito pelo contrário: cor e raça na intimidade. In.: SCHWARCZ, Lilian. História da vida privada no Brasil: contrastes da intimidade contemporânea. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p.186)
(CALLIGARIS, Contardo. Hello, Brasil! – psicanálise da estranha civilização brasileira. São Paulo: Três Estrelas, 2017)
(ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 116).
(Adaptado de: http://www.primaveragarden.com.br/a-flor-subversiva)
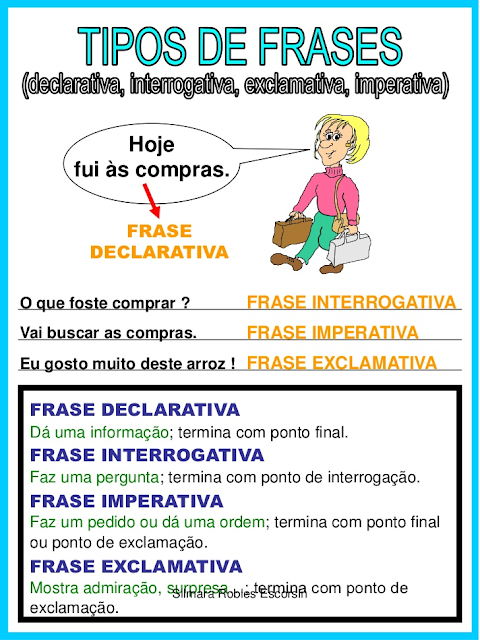

Comentários
Postar um comentário